No futuro, uma esperança chamada subjetividade
IA padece de um mal crônico: ela não possui subjetividade – e isso a coloca mil anos-luz de substituir a presença humana neste mundo
PUBLICAÇÃO
quarta-feira, 27 de setembro de 2023
IA padece de um mal crônico: ela não possui subjetividade – e isso a coloca mil anos-luz de substituir a presença humana neste mundo
Marco A. Rossi 
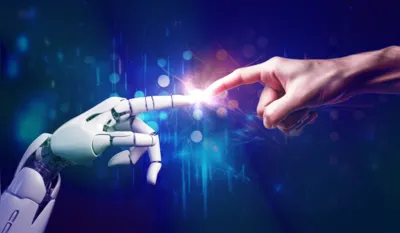
Considero impressionante a habilidade humana de pensar o futuro, predizê-lo, ainda que ela não demonstre o mesmo ímpeto para sublimar os problemas do presente. Diante dos fatos correntes, a postura comum é a de esperar pelo pior, como se o pessimismo fosse atávico à prisão mundana. É célebre e certeira a máxima do crítico cultural estadunidense Fredric Jameson: “É mais fácil imaginar o fim do mundo do que a superação do capitalismo.”
LEIA TAMBÉM:
Na literatura e no cinema, por exemplo, são muito mais presentes as distopias do que as utopias. Histórias de amanhãs desérticos e apocalipses zumbis são frequentes e transbordam os limites da imaginação. Ao mesmo tempo, a esperança se revela carente, miúda, incapaz de povoar corações e mentes com a mesma intensidade. De certa forma, o trágico abocanha os estados de espírito, provavelmente capturados por uma crença precipitada na maldade natural dos seres humanos. Num cantinho escuro, alguém parece dizer que nada pode ser feito.
Essa sensação de desamparo profundo tem sido reanimada pelo crescimento vertiginoso da Inteligência Artificial (IA). Entre apocalípticos e integrados, sobra pouco para reflexões dispostas a entender de fato o fenômeno. De um lado – o dos apocalípticos –, a IA irá corroer as relações interpessoais, destruir o mundo do trabalho, amesquinhar ainda mais as ações dos indivíduos e seus grupos de pertencimento. De outro – o dos integrados –, a mesmíssima IA representa o mais brilhante futuro possível, com instrumentalizações poderosas em diversos campos, como o da educação, o da ciência e o da busca pela qualidade de vida. Nos dois casos, triunfa a irreflexão.
Dias atrás, na UEL, eu disse que a IA padece de um mal crônico: ela não possui subjetividade – e isso a coloca mil anos-luz de substituir a presença humana neste mundo frágil e tão hostilizado pelos próprios seres pensantes. Citei exemplos triviais, como o ChatGPT e a Alexa, que dominam o ânimo dos mais jovens. Em casa, a Alexa me dá as horas, me lembra do próximo jogo do Fluminense, me alerta sobre a previsão do tempo e até toca as músicas que quero ouvir em diferentes momentos do dia. Mas é só isso. Não há possibilidade de refletirmos, juntos, sobre as lições de um livro ou filme, de trocarmos confidências sobre os dilemas do coração, de aprendermos a lidar com as ruínas do corpo. Para tudo isso, eu preciso de outro ser humano, livre, dotado de sensibilidade e... subjetividade.
É bem provável que o desespero fluido de nosso tempo esteja associado à descrença naquilo que podemos realizar em coletividade, por meio de afinidades eletivas e intersubjetivas. Se soubéssemos apreciar o convívio entre os membros do gênero humano, iríamos destacar a utopia, em vez de ofertar tantos créditos às distopias e maldições.
A vida, contudo, é como a maré: sobe e desce. O presente não é promissor, e o futuro, embora permaneça sempre aberto, está acobertado por densa névoa de desesperança. Podemos, no entanto, fazer algo muito maior e mais potente. Afinal de contas, somos dotados de... subjetividade.
* A opinião do colunista não reflete, necessariamente, a da Folha de Londrina.


