Tarantino: da ficção à realidade
PUBLICAÇÃO
sábado, 07 de setembro de 2019
Celia Musilli - Grupo Folha 
“Era Uma Vez em...Hollywwod” está entre os melhores filmes que assisti ultimamente. Quentin Tarantino abordando o cinema como temática não é novidade, mas a construção dessa metalinguagem – o cinema falando do cinema – leva o espectador a décadas de referências de forma direta e indireta. São filmes entrando pelos olhos e pelos poros, como se a poeira do western nunca tivesse sido lavada.
Se a memória visual é potente, os conflitos que permeiam a vida real em Hollywood estão latentes no personagem que chora de impotência diante da máquina que o alimenta e engole. Leonardo DiCaprio no papel do frágil Rick Dalton é uma referência à crueldade da indústria mastigando seus monstros sagrados. E eles estão em toda parte, das citações em frases aos cartazes que decoram os ambientes que nos lançam aos anos 1950/60, quando o cinema em technicolor envolvia pela estética de um falso brilho que doía quando ídolos como Marilyn Monroe se suicidavam ou eram suicidados. Essa angústia “de época” permeia todo o filme.
Sabendo que a ação desembocaria no assassinato de Sharon Tate confesso que entrei no cinema incomodada sobre qual seria minha reação diante da morte violenta da atriz na versão de um diretor que tem a violência como tijolo de construção da sua filmografia. A estupidez da morte de Sharon Tate me assombra desde a infância, até hoje não posso ver imagens de Charles Mason, mentor do assassinato, sem sentir um misto de repulsa e medo. Dia desses, desliguei a TV que iria exibir o documentário “comemorativo” aos 50 anos da morte da atriz – completados em 2019 - antes mesmo que começasse. Não queria perder a noite pensando nos olhos insanos de Mason que muitos comparam a um demônio e que, no meu imaginário, realmente se assemelha a alguma encarnação do mal, pelo culto às drogas, à manipulação de espíritos jovens, a violência que incutia em seus discípulos como ato de obediência a um “mestre.”
Na sua genialidade, Tarantino dilui essa violência através da metalinguagem, do cinema abordando o cinema, e percebemos o quanto a cultura é agressiva em cenas que vão do western às relações interpessoais de chefões dos estúdios com os atores. Todos perdendo a cabeça e a própria vida pela fama. Tarantino enfia o dedo na ferida com muito sangue ou sangue nenhum, adotando tom de comédia para mostrar o uso que a máquina faz das emoções dentro e fora das telas.
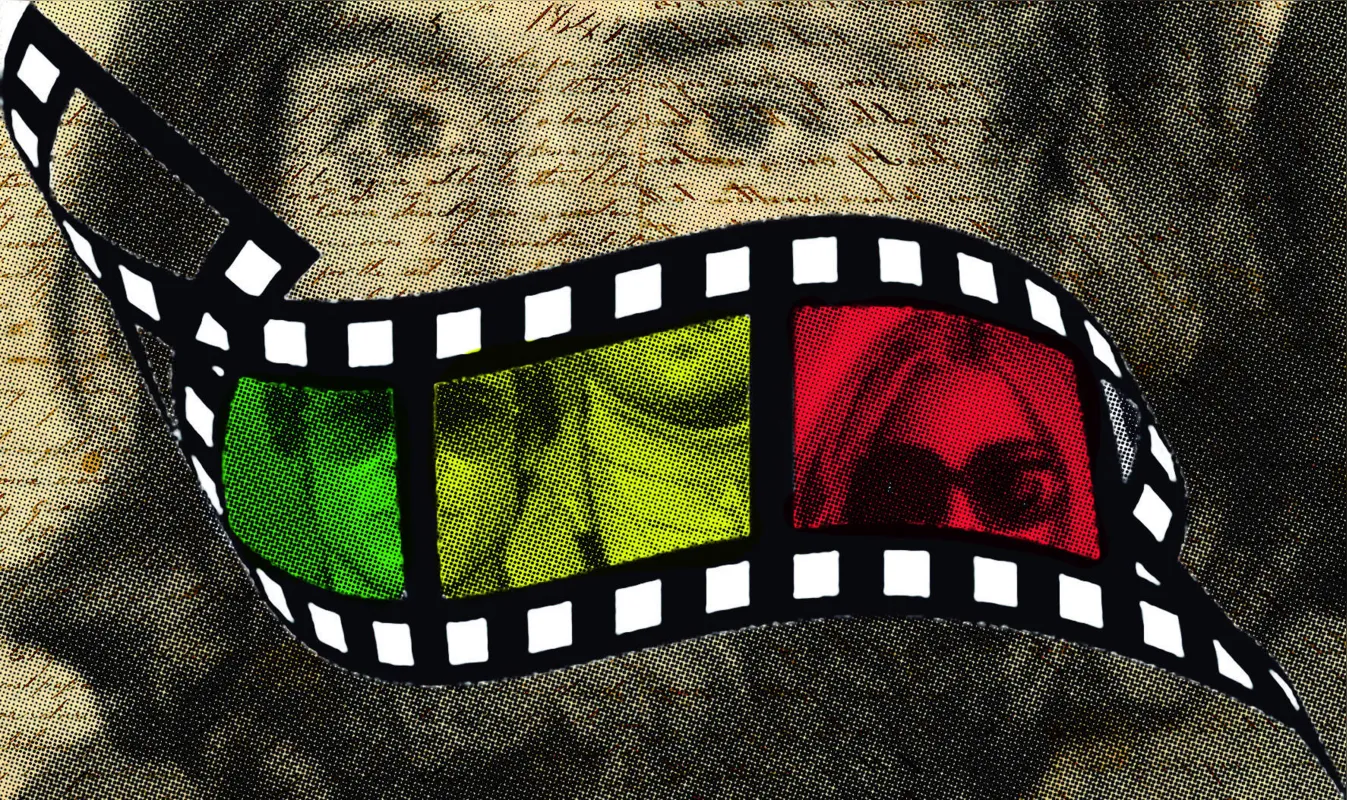
Assim, um espectador cada vez mais relaxado diante do absurdo, flagra-se como um sujeito anestesiado por décadas de violência cinematográfica, até pular o muro da ficção para realidade quando vai se aproximando o momento da cena de um assassinato que não deixou de ser “glamouroso” pelas pessoas envolvidas, afinal Sharon Tate era a mulher de Roman Polanski. Um choque de realidade para quem imaginava o mundo do cinema apenas com aquele brilho compulsivamente dourado do sol de Los Angeles.
A compulsão pelo brilho, a compulsão pela fama, a compulsão pela festa, a compulsão pelo prazer desemboca numa pulsão de morte em “Era Uma Vez....Hollywood”. Mas através de um diretor genial somos conduzidos à cena do crime pulando o muro do vizinho, como quem pega um desvio da realidade, e os assassinatos não ocorrem na casa de Roman Polanski e Sharon Tate, mas bem ali ao lado.
As interpretações de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt (que faz o dublê Cliff Booth) constroem a comédia que, afinal, é uma tragédia. E na plateia não há constrangimento quando uma personagem soca a cabeça de outra até a morte. E, como vítimas de um spoiler real, rimos do absurdo da violência, acostumados que somos à violência de saber que pessoas morrem no “microondas” do Morro do Alemão ou na periferia de Nova York.
A genialidade do filme é mostrar que toda nossa empatia e sensibilidade foram embotadas por décadas de violência cultural, cinematográfica, mas, sobretudo, fomos embotados pela própria realidade. Uma analgesia risível e, por isso mesmo, infinitamente perturbadora.


