Aguenta coração!
Coração de pétalas e de pedra lascada, de fluxos e correntes subterrâneas, histórias sem fim
PUBLICAÇÃO
sábado, 17 de fevereiro de 2024
Coração de pétalas e de pedra lascada, de fluxos e correntes subterrâneas, histórias sem fim
Celia Musilli 
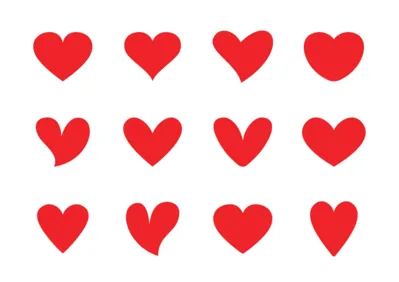
O médico disse que ela tinha um “sopro no coração.” Ali no consultório, na rua Senador Souza Naves, recomendou um eletrocardiograma, aquele exame em que nos ligam por uns fiozinhos a uma máquina para medir nosso ritmo, a pulsação do órgão mais sensível do corpo. Sensível porque dói mesmo quando não há dor física, só emocional, e ele dispara como um alarme.
Ela lembrou que quando era criança, um médico disse que sua irmã também tinha um “sopro.” Achou a expressão tão poética quanto tocar flauta e sentiu uma pontinha de inveja no órgão que denuncia até pensamentos proibidos. Em compensação, segundo esse médico da infância, seu coração era um “reloginho” e ela passou anos imaginando os ponteiros, os eixos, o formato redondo como os carrilhões das igrejas, achando que tinha um coração enorme e podia sair gastando toda sua corda.
LEIA TAMBÉM:
O ano mal começou e já se passou um mês
Agora, na véspera do eletrocardiograma, ficou pensando o quanto devia estar avariado o seu “reloginho”, com tantos sobressaltos, tantos sustos, tantos amores, tantos aquecimentos e congelamentos sucessivos. Coração de pétalas e de pedra lascada, de fluxos e correntes subterrâneas, histórias sem fim, parceiro diurno e noturno, de sonhos e pesadelos. Uma paisagem vastíssima devia ser mostrada no eletrocardiograma, o nome mais antipoético que existe para um inventário de sensibilidades.
Ela pensou que nem queria ser examinada assim, numa corrente de eletricidade, ligada a fios como uma torradeira. E se detectassem seu medo do escuro? Seus pensamentos na solidão? Suas ideias tortas, suas fantasias, seu desejo de morrer de
um ataque cardíaco, a morte mais justa para uma poeta.
Já fazia tempo que pensava em não viver muito, não como um animal jurássico, um fóssil em atos e emoções. Queria viver enquanto se mantivesse aquecida por algum plano, algum roteiro maluco, uma viagem para além dos trópicos, uma odisseia com direito ao conhecimento dos mortais e o enfrentamento dos deuses.
Já tinha pensado em voltar à Ítaca, a terra mítica, o lar para onde vamos depois das vitórias e derrotas. Então, se morresse subitamente, como uma dama das camélias, estaria de bom tamanho. Não teve uma vida de cinema, mas a morte talvez fosse um filme, no qual embarcamos como um personagem enquanto nos atiram flores.
Afinal, já tinha sustentado tantos diálogos, escrito livros, deitado palavras que justificam a existência mesmo que metade fosse mentira. E a outra metade, uma verdade tão grande quanto o tempo de uso do seu coração, com prazo de validade
gravado sem medo nem tédio.
Foi dormir cedo, preparando-se para o exame na manhã seguinte quando seria uma mulher presa aos eletrodos, medindo as pulsações que enfim explicariam o “sopro” que talvez tivesse a ver com o sufocamento noturno do qual vinha se queixando ao
médico.
Ela pensava em odisseias, ele suspeitava de apneia, palavra grega que significa “respirar com dificuldade”, coisa que os seres humanos podem suportar por cerca de 2 minutos.
- Mas apneia não é doença de gordos, doutor?
- Nem sempre, magros também podem ter apneia.
Ela ficou pensando que não comer bombons não valia nada na hora da morte, nem da investigação daquele aparelhinho que ia medir a quantas anda um coração que já foi assaltado por amores bandidos, paixões súbitas, ficando em cárceres privados de
emoções , enquanto ela escrevia nas paredes: “Je vis à l’air de Baudelaire.”
Tanta poesia deu nisso. Amanhã ela teria um mapa da sua odisseia, não sem antes se lembrar de uma das frases mais célebres do livro de Homero para consolar-se como quem reza: “Aguenta, coração!”
(Crônica revisada, publicada originalmente em 13 de novembro de 2011).


