Trabalhadores da Acesf contam a rotina na pandemia
Se lidar com a morte já não é fácil, os profissionais do sistema funerário relatam como ficou ainda mais difícil o dia a dia por causa da Covid
PUBLICAÇÃO
quinta-feira, 01 de abril de 2021
Se lidar com a morte já não é fácil, os profissionais do sistema funerário relatam como ficou ainda mais difícil o dia a dia por causa da Covid
Laís Taine - Grupo Folha


O coração parou de bater, a vida acabou. Desamparadas, as famílias procuram um abraço quando está proibido se aconchegar. Em meio a esse cenário, uma equipe invisível trabalha nos bastidores para oferecer serviço racional quando tudo é emocional, mas no último trimestre, o trabalho aumentou, o ritmo está acelerado, mais famílias precisam de atendimento e precisam rápido. Se lidar com a morte já não é fácil, os profissionais do sistema funerário contam como ficou ainda mais difícil a rotina de trabalho em meio a pandemia.
Em 2020, Londrina registrou 6.955 óbitos no total, 715 mortes a mais que em 2019, segundo dados da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina). Apesar do aumento, foi em 2021 que as coisas começaram a apertar para os profissionais da autarquia. Se antes da pandemia a média era de 17 atendimentos por dia, em 2020, já com o impacto da Covid-19, a média subiu para 19 óbitos diários. No entanto, em março de 2021, esse número subiu para 33 mortes atendidas a cada 24 horas.
Com esse volume, todo o sistema funerário está em alerta. Além do controle assertivo dos insumos, da organização do tempo e do espaço nos velórios, também os recursos humanos estão desgastados em rotinas pesadas de trabalho. É o que contam o coveiro, motorista e diretor técnico da Acesf.
O COVEIRO
A equipe de reportagem entrou no Cemitério João XXIII (Centro) procurando por Washington Luiz de Freitas, 40. O coveiro atua há sete anos no serviço funerário e, apesar de não desejar o cargo, disputou sete vagas com 1.800 candidatos. Eletrotécnico de formação, depois que assumiu o posto, nunca mais procurou outra área.
O cemitério é pequeno, encontrar o coveiro em meio a corredor de jazigos não foi difícil. Ele trabalhava na exumação sob a observação de um familiar. O preparo daria espaço ao corpo de uma senhora que seria sepultada horas mais tarde. Curtas horas.
Desde o início da pandemia, os velórios ficaram reduzidos em tempo e densidade. Somente duas horas de despedida e restritos a dez pessoas. No caso das vítimas de Covid-19, o velório não existe: a Acesf busca o corpo no hospital e encaminha diretamente para o cemitério. O que acelerou o trabalho de Freitas.
Além do aumento de mortes, ele precisa ser ágil. Atender os familiares consternados que chegam para preparar o jazigo, abrir a sepultura, guardar o corpo, fechar a sepultura e manter o cemitério organizado são partes do trabalho. “Aumentou muito de um ano para cá. Tem cemitério que tinha um ou dois mortos por semana, agora tem dois, três, por dia”, revelou.
O que faz aumentar os plantões. “Às vezes tem que pedir ajuda, chamar mais coveiro, alguém que está de folga para trabalhar. A gente tem que estar pronto para atender”. No dia a dia, os coveiros já usam luvas e máscaras, mas com a Covid-19, entrou no cotidiano a paramentação. “Vem no laudo do sepultamento escrito: ‘Covid’. A gente tem que colocar uma roupa própria”, explicou.
O local também recebeu um chuveiro onde ele pode tomar banho e trocar de roupa antes de ir embora. “Eu acharia seguro se a gente conseguisse vacina para a família, porque eu tomei a vacina, mas a minha mulher e meus filhos não. Aí eu vou para casa, é a mesma coisa que tivessem trabalhado comigo”, criticou.
Casado e pai de três, Freitas contou que em janeiro ficou 18 dias afastados por conta do coronavírus e que toda a família sofreu com a infecção. “Todos nós pegamos, mas eu fiquei mais feio. Não tive problema com a respiração, mas tive dez dias de febre, senti dor intensa, dor no corpo, o paladar afetou também”, enumerou.
Assim como ele, alguns colegas foram afastados no decorrer da pandemia, tornando o trabalho ainda mais pesado. Mas conta que sempre tomam cuidado para evitar a infecção.“ Eu nunca tive medo da Covid-19, até pegar. Eu vou ser sincero, se fosse um senhor de idade, não teria aguentado. Eu não bebo, não fumo e foi forte, até hoje tenho sequela, tenho tosse e urticária”, contou.
Freitas disse que durante a pandemia a despedida ficou mais fria. As pessoas têm receio e ficam distantes. Na semana anterior à entrevista, ele falou do sepultamento de um senhor de 90 anos. O ritual foi acompanhado pelo filho, que também estava positivado. “Não era solidão, ele que orientou as pessoas a não irem”, recordou. O que, segundo ele, não deixou de ser triste e solitário.
Apesar de inúmeras histórias que já presenciou, o coveiro conta que nada é mais triste que a despedida de um pai que deixou uma criança com idade insuficiente para compreender o processo. “Dói muito ouvir o filho chamar o pai sem entender o que houve, fica perguntando o que está acontecendo. Vai saber dali pra frente o que vai ser daquela criança sem o pai. Essa é a parte que dói”, declarou.
Também pudera, para um pai de três, se imaginar naquela situação não é fácil. Apesar disso, diz evitar relacionar os fatos observados no trabalho com a própria família. Jeito que encontrou de driblar o psicológico ao lidar com a morte diariamente.
Mesmo assim, consegue tirar aprendizados que tenta levar para quem está de fora do ambiente. “Eu trabalho de frente, lido com gente que perdeu parente e também já fui contaminado e acho o seguinte: as pessoas brigam muito com esse negócio do ‘fique em casa’, mas eu vou falar para você, enquanto o morto não for da sua família, você não vai dar valor. Só que quando for, vai ser tarde.”
E explica que a pandemia exige mais que uma saúde física boa. “Se não tiver cabeça boa... De repente, nem é a Covid que mata, mas um infarto, depressão, porque você sente culpa de ter passado para alguém da sua família. Então, o que compensa: você ficar em casa por trinta dias ou carregar uma culpa por 20 anos?”, questionou.
O MOTORISTA
Do portão da sede da Acesf, na avenida JK, dá para ver o movimento intenso de veículos chegando e saindo sem dar visão para o que tem do lado de dentro da viatura. Nos fundos do estacionamento há uma sala com porta vai-e-vem e aviso de entrada restrita. Foi lá que a reportagem procurou por Baldo, o motorista de 57 anos que aceitou falar sobre seu trabalho.

Ele sugere conversar um pouco mais distante da sala. Naquele local, os familiares reconhecem os corpos das vítimas que partiram sem suspeita da Covid-19. A conversa, então, se desenrola em uma das vagas do estacionamento, mas antes ele apresenta o crachá para explicar como escreve seu nome: Wunibaldo Lopes de Almeida, justificando o apelido.
Baldo é agente condutor funerário da Acesf há dez anos e admite nunca ter visto situação como essa. “A demanda aumentou muito. Hoje, eu ajudo mais na sala de preparação e estou trabalhando mais, porque aumentou o serviço, é um movimento muito grande de chegada de corpos”, declarou.
Há dois anos, desenvolveu hérnia de disco que o restringe sustentar pesos acima de cinco quilos, impedindo-o de carregar corpos adultos para os veículos. Com isso, Baldo fica nas atribuições que a saúde permite: dirigir, carregar caixões de natimortos ou recém-nascidos e, ultimamente com mais intensidade, auxiliar na preparação dos corpos.
Nas idas e vindas mais frequentes da pandemia, vê mudanças na rotina de trabalho. “Às vezes, eu vou com o motorista e preparador buscar dois corpos no hospital e voltamos com quatro, cinco. Uma colega de plantão foi para o HU (Hospital Universitário de Londrina) para buscar quatro e chegando lá já tinham cinco. Como não cabe na viatura, teve que trazer quatro e voltar para pegar mais um”, relatou.
Para ele, além do volume de trabalho, há a questão do tempo. “O que está fazendo ficar mais difícil é que tem que ser feito tudo no mesmo dia, não dá para esperar”, comentou. Mas não é só o trabalho que é afetado pela exigência de agilidade, a pandemia está mudando o comportamento das pessoas diante da morte.
“Essa coisa do cortejo, que era um costume nosso, e o velório de longa duração são mudanças que eu acho que vão ficar mesmo depois da pandemia”, acredita. Como justificativa, apontou a violência nos velórios noturnos e a agitação do dia a dia, que impede as pessoas de abandonarem o serviço para velar uma pessoa durante horas.
Porém, algumas mudanças não são assimiladas nem perdoadas. Os familiares das vítimas da Covid-19 sofrem com a impossibilidade da despedida. Todos os corpos são reconhecidos por um responsável já no hospital. De lá, saem lacrados no caixão e seguem direto para o sepultamento, tirando o direito de outros familiares terem tempo de reflexão sobre aquela morte. “O fato de você não poder ver a pessoa, não gravar a última imagem. Tem gente que pergunta: ‘será que morreu mesmo? Será que era mesmo Covid?’, são dúvidas que geram muita dor”, mencionou.
A dificuldade de compreensão da morte vem, segundo ele, também da incapacidade de entender a finitude humana. “Sabe as pessoas que acham que vão demorar para morrer? De repente, estão todos bem, mas a mãe interna, no momento seguinte vai a óbito. É muito rápido”, citou. “Esse momento se agravou mais ainda pelo fato de a pessoa não poder acompanhar o familiar que está sendo internado.”
A reflexão exige maturidade e que ele absorveu, mas não sem sofrimento. “O que mais aprendi aqui dentro foi sobre a nossa finitude. Eu perdi um amigão, um irmão, que também era motorista nosso. Ele já estava doente, mas quando morreu, tinha suspeita de estar com Covid. Lembro que a gente brincava que quando um morresse o outro iria carregar”, lamentou.
Baldo valoriza a vida e os amigos que têm e reconhece que eles são preciosos até mesmo quando não se está mais neste mundo. “Você tem que ter pelo menos quatro amigos, porque as urnas têm quatro alças. Se você não tem, melhor repensar e mudar suas atitudes, porque, às vezes, está só eu e o coveiro sepultando, não tem ninguém da família e precisa pedir ajuda para carregar. Já vi essa cena”, lamentou.
O motorista fala da morte como poucos e às vezes zomba, mas até nisso há tom de respeito - e profissionalismo. “A pressão aqui é muito forte, a família chega jogando tudo para você, mas tem que se isentar daquilo. Isso não é ser frio, é ser profissional. A gente tem que fazer com que o familiar sinta menos tristeza e menos dor”, afirmou. “Mas o choque é necessário para entender que quem morreu não volta mais. É duro, mas não tem outro jeito”, ensinou. Mas explica que a maioria só entende a dor da perda quando Baldo já está no volante.
O ATENDENTE
A sala de atendimento no plantão funerário da Acesf não estava lotada, mas ficou longe de amanhecer tranquila. Pessoas formavam filas do lado de fora, evitando ocupar o espaço interno que, pelo tamanho, não esperava receber tantas pessoas ao mesmo tempo.
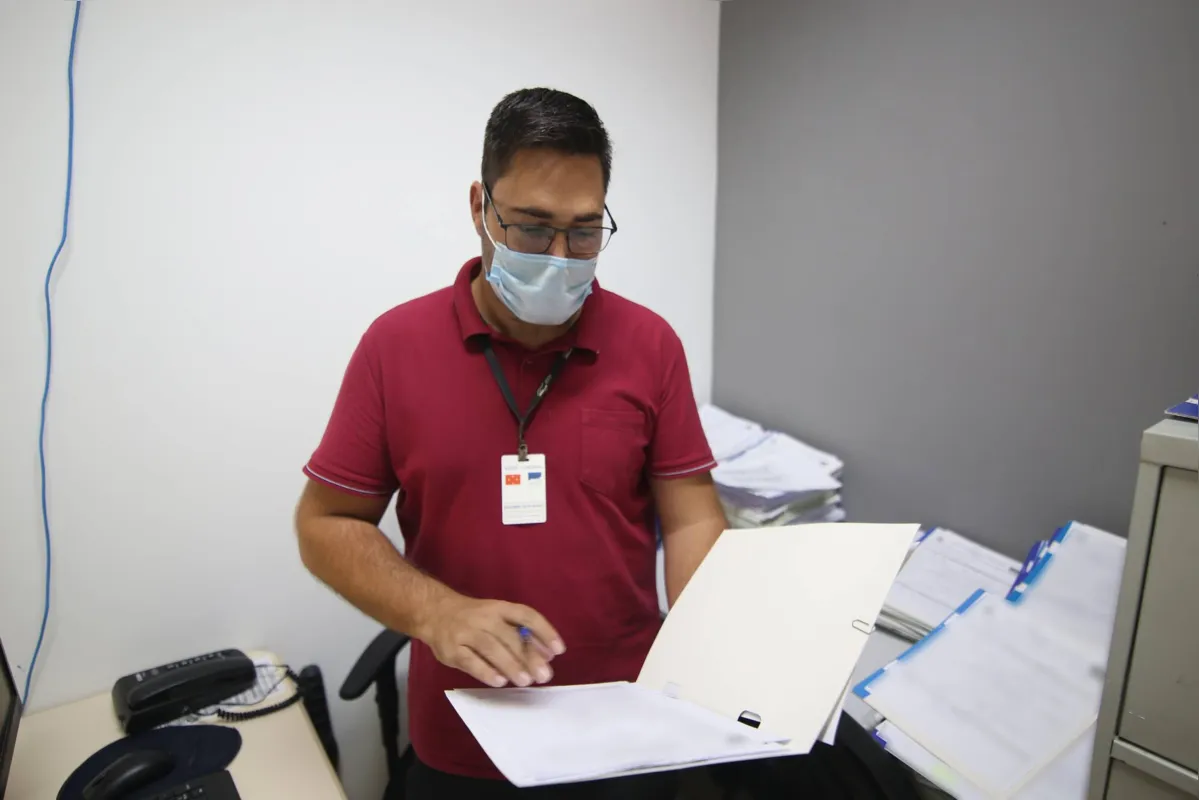
Enquanto três pessoas da mesma família reclamavam da demora do atendimento, nos corredores, funcionários atravessavam em passos apressados com papeis nas mãos. Quem ousava espiar a porta entreaberta via um quadro de vidro branco com anotações à caneta azul.
Era a sala de Ademir Gervásio de Souza, 33, atendente há 13 anos e novo diretor técnico na autarquia. Os escritos a mão formavam uma planilha quase completa de nomes e cemitérios. O relógio marcava pouco mais das 10 horas da manhã e 17 nomes já preenchiam a tabela com mortos do dia.
“Nós temos um painel eletrônico que lança automaticamente os dados ali fora, mas é um painel informativo, esse aqui é interno para a gente ter controle dos nossos motoristas, saber quem vai fazer qual velório”, explicou.
Mas antes, Souza pediu desculpas pela demora, era visível que o local estava mais movimentado que o habitual. “Até um tempo atrás, a média de óbitos por dia aqui era de 17 a 18, a gente atendia 540 por mês, mas sempre é imprevisível, tinha dia com cinco e outros com 32, mas agora aumentou bem”. Abriu a planilha no computador para verificar. “Esse mês, a média está em 29 óbitos atendidos por dia”, acrescentou. Na sexta-feira (26), essa média tinha subido para 33 óbitos por dia.
O telefone tocou, era alguém querendo informação sobre um óbito. Souza chega todos os dias às 6h45, a carga horária é de seis horas, mas conta que no dia anterior, trabalhou até as 21 horas. “A gente trabalha com o imprevisível, na mesma hora que não tem nada, o hospital avisa de dois, três corpos e, quando a gente vê, têm seis famílias aqui”, declarou.
A Acesf possui plantão 24 horas, sempre com dois atendentes, mas com o aumento da demanda é preciso ajuda. “A gente chama servidor que está de folga, é uma situação atípica, não tem como planejar essa situação atual. A gente está contando com servidores de outros setores para evitar desgaste excessivo dos servidores de plantão, fazemos revezamento”, explicou. A autarquia fez o pedido de contratação temporária de mais quatro profissionais.
Não bastasse o volume de trabalho, lidar com o luto das famílias exige controle emocional, mas quando se trata de vítimas da Covid-19, há um agravante: a impossibilidade da despedida. “Não tem velório, é uma recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), não fomos nós que criamos, e eles ficam bem chateados quando a gente avisa”, relatou.
As vítimas do coronavírus são reconhecidas por um responsável no próprio hospital de internação e lá mesmo o corpo é embalado em um plástico específico para evitar a contaminação. A autarquia é responsável por buscar o corpo já com o caixão escolhido e, do hospital, o corpo é encaminhado diretamente para sepultamento. Ninguém vê quem morreu, senão aquele que fez o processo de reconhecimento.
“As famílias ficam muito sentidas por isso. Acabei de atender um familiar que lamentou: ‘poxa, não vou conseguir ver mais? Minha nora viu, mas eu não vou conseguir ver meu neto?’ Fica esse peso, é uma situação muito complicada”, lamentou. Outras preferem discutir. “A gente avisa que é cuidado para a saúde de todos, é difícil, mas tem que ser assim.”
Enquanto Souza relatava a rotina, a parte superior do quadro foi apagada para dar espaço a novos nomes. “Como agora só tem duas horas de velório, a gente consegue atender mais óbitos durante o dia. Se todo mundo velasse o dia inteiro, a gente não daria conta de atender. Além de evitar contaminação, aglomeração, o tempo ajudou na logística aqui para fazer vários sepultamentos no dia”, explicou.
Correria que ninguém nota, a menos que precise do serviço. A falta de percepção gera curiosidade sobre o trabalho. “O pessoal conhecido faz pergunta se é como falam mesmo e aí envolve situação política. É um absurdo alguém politizar isso”, criticou. “A gente que está aqui sabe da seriedade da coisa. O negócio é sério. A gente torce para que venham logo as vacinas ou aconteça alguma coisa para amenizar.”
Receba nossas notícias direto no seu celular. Envie também suas fotos para a seção 'A cidade fala'.
Adicione o WhatsApp da FOLHA por meio do número (43) 99869-0068 ou pelo link wa.me/message/6WMTNSJARGMLL1.


